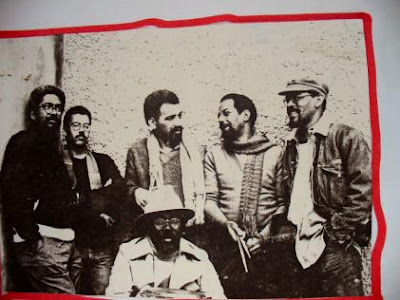Texto/parte do livro do Spirito Santo que conheci virtualmente no site overmundo. Muito instingante e aguardo o livro com ansiedade
Este post é um trecho do livro, ainda no prelo, denominado 'O Samba e o Funk do Jorjão', cuja idéia central é esmiuçar e desconstruir alguns dos mitos, supostamente, criados em torno da história do Samba - enquanto uma espécie de síntese da cultura do negro brasileiro, em geral - mitos estes que, como ocorre com muitas outras ficções antropológicas montadas no Brasil, foram construídos por criativas comunidades de intelectuais, ao longo do tempo e com intenções, quase sempre, muito bem medidas. Embora tenham sido baseados, claramente, em premissas equivocadas, infundadas ou mesmo deliberadamente falsas, infelizmente, estes mitos foram se cristalizando até se tornarem verdades absolutas, oficiais, por força de sua insistente reiteração (principalmente por certas vias acadêmicas). Ao que parece, na maioria dos casos, a principal função destas mistificações, é dar sustentação a certos paradigmas da excludente sociedade brasileira, entre os quais aquele que tenta estabelecer – sempre sem afirmar - a existência de uma espécie de hierarquia cultural (ou mesmo intelectual), entre as raças ou classes no Brasil, que daria alguma legitimidade a desigualdade social predominante. Dentre estes eletrizantes mitos, o mais curioso talvez seja o do 'Berço do Samba', que parece tentar comprovar - na verdade, de forma extremamente sutil - a velha tese racista de Nina Rodrigues sobre uma improvável supremacia dos negros bahianos ('sudaneses' supostamente maioria étnica na Bahia) sobre os demais (negros 'Bantu', vindos de Angola para as fazendas de café do Vale do Rio Paraíba do Sul, certamente, maioria étnica no Rio de Janeiro desde, pelo menos, o início do século 19). Entre outras fontes, recorri para esta parte do trabalho, aos escritos (em notas assinaladas) de Nei Lopes – que gentilmente assina o prefácio do livro - além de Muniz Sodré e Sérgio Cabral, o pai, especialistas que dispensam quaisquer comentários)
Com vocês então:
O Mito do 'berço do Samba
--------------------------------Não deu no jornal:
O dia em que um Samba foi cantado na Mangueira...pela primeira vez ...'Quem cantou foi Eloy Anthero Dias, o ‘Mano Eloy’, um personagem legendário do samba carioca. Morador de Madureira, na época, Mano Elói viria a fundar mais tarde pelo menos três escolas de samba (Prazer da Serrinha, Deixa Malhar e Império Serrano). Foi ainda, segundo dizem, um respeitado pai-de-santo e, durante muitos anos, destacou-se como líder sindical dos estivadores do cais do porto. '...Mano Eloy cantou primeiramente na casa de Tia Fé e depois para os integrantes do Pérolas do Egito. Era um samba do tipo partido alto em que se repetia o refrão e improvisavam-se versos. O refrão dizia apenas o seguinte: ‘O padre diz Miseré Misereré nobis’. Em seguida, vinham as quadras improvisadas, quase sempre relacionadas com as circunstâncias em que o samba era cantado, Carlos Cachaça lembrou-se que, numa delas, Mano Elói brincava com a dona da casa, inventando versos como "amanhã vou na casa de Tia Fé", rimando com "vou tomar 'café' '.O Samba de Partido Alto cantado por Eloy, principalmente pelo fato de usar uma rima com ‘café’, poderia ter algum remoto parentesco com o famoso ‘Batuque na Cozinha’ que, por sua vez, já havia sido um conhecido Lundu de letra africana, meio cabalística, bastante famoso na Corte Imperial como ‘Lundu do Pai Zuzé’ (este sim, matriz evidente do famoso e posterior ‘Batuque na Cozinha’ (assinado por João da Bahiana).
Lundu do Pai Zusé (domínio público - século 19)
‘Batuque na cozinha ,
Sinhá num qué
Pru causa da crioula
do Pai Zusé
Auê, Zambi...Zique...pá ,
Zique...pá ,
Zique...pá , Zique...pá ...
_ Cadê pirigurê? (caxinguelê)...
'Batuque na Cozinha (João da Bahiana, século 20)
'Batuque na cozinha a Sinhá num qué
Por causa do batuque eu queimei meu pé....
Eu fui na cozinha pra pegá cebola
E o branco com ciúme de uma tal crioula
Deixei a cebola, peguei na batata
E o branco com ciúme de uma tal mulata...'
--------------------------Existem muitos outros aspectos curiosos, instigantes mesmo, naquela primeira audição de Samba na casa da bahiana Tia Fé, na Mangueira dos idos de 1910, protagonizada, pelo ilustre visitante Eloy Anthero Dias, um encantado Carlos Cachaça, e o pessoal do rancho ‘Pérolas do Egito’, muitos deles talvez futuros integrantes do ‘bloco dos Arengueiros’, segundo consta, o núcleo formador da Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira. Embora eles sejam considerados hoje em dia fatos consumados e estabelecidos, que tal dar uma olhada neles, sob outro ponto de vista? Para começo de conversa, há na crônica sobre as origens do Samba, um inexplicável exagero na hora de se falar desta impressionante figura que foi Eloy Anthero Dias, o Mano Eloy. O que se vê invariavelmente legendado em sua história, na época em que cantou pela primeira vez um Samba na Mangueira, é a sugestão de que ele era um ‘bamba, exímio sambista, jongueiro, pai de santo e macumbeiro’, cheio de super poderes, um verdadeiro ‘Superman’ negro. Ocorre que este surpreendente Mano Eloy (com certeza um nome que merece mais notoriedade do que lhe dão os especialistas em Samba), pelos dados até agora disponíveis, devia estar, no máximo, com 22 anos na ocasião descrita por Carlos Cachaça (que seria mais novo ainda que Eloy). '
...Há 30 anos que Eloy Anthero Dias (agora aos 43 anos) ...faz parte do Samba- essa dança que encanta e embala. Durante este tempo, inúmeros sambas fez ele, inclusive ‘Miserê’, ‘Não vou lá no candomblé,’ ‘Moro na roça’, e ‘B com A’, estes tiveram retumbante sucesso' . (Trecho de biografia de Eloy publicada pelo jornal ‘A Rua’, na ocasião em que foi eleito o primeiro cidadão Samba do carnaval carioca, em 1936)Estando há cerca de sete anos no Rio de Janeiro e havendo ingressado no chamado mundo do Samba com cerca de 18 (portanto há apenas quatro anos antes desta sua ida à Mangueira), Eloy devia ser aquela altura, astuto sim, despachado, descolado; um jovem prodígio até mas, experiente com certeza ele não poderia ser. Não havia bagagem de vida, cabedal. Havia muito chão ainda para o futuro ‘bamba’ percorrer. '... Sambista nascido em Engenheiro Passos, no estado do Rio de Janeiro em 1888 e falecido em 1971, na cidade do Rio – para onde viera com 15 anos de idade- (...) Mano Elói tornou-se o pioneiro do registro de cânticos rituais afro-brasileiros. Nesse ano, com o Conjunto Africano, gravou um ponto de Exu, dois de Ogum e um de Iansã. Seu companheiro nessa empreitada foi o já referido Amor. O pioneirismo dos sambistas Amor e Mano Elói deve-se ao fato de eles terem levado para o disco verdadeiros cânticos rituais, executados e interpretados como autênticos pontos de macumba, com atabaques e tudo o mais'. O fato é que, por alguma estranha razão, ligada talvez ao inusitado da situação (quem sabe talvez o fato de ter sido um desconhecido ‘estrangeiro’ de Oswaldo Cruz, o verdadeiro introdutor do Samba, no tradicionalíssimo reduto da ‘Estação Primeira’), nossos estudiosos acabaram deixando sugeridas na biografia de um Eloy ainda mal saído da adolescência, qualidades que ele evidentemente só iria ter muitos anos depois.
A precocidade de Eloy (a quem também Nei Lopes, de certo modo, atribui a introdução do samba na Mangueira, sob a forma de rodas de Batucada e de Pernada) e de outros grandes mestres do Samba, era bastante comum naquela época, quando os conceitos adolescência ou juventude eram um tanto diferentes do que são nos dias de hoje. Mesmo neste caso há de se convir, no entanto que, se referindo àquela ocasião, os dotes posteriormente atribuídos a Mano Eloy eram certamente exagerados.
---------------------------Deu até no 'Fantástico': O Quintal e a Sala da Tia Ciata
O outro aspecto, este mais instigante ainda, é que, se é fato realmente que na Mangueira de 1910 não havia ainda algo que se parecesse com o ‘Samba de Partido Alto’ trazido por Eloy (fato que explicaria a surpresa do menino Carlos Cachaça) a enfática afirmação da maioria dos estudiosos de que o Samba nasceu na Praça Onze, nos quintais das tais ‘Tias Bahianas’, pode não passar mesmo de um mito, um episódio exagerado pela bibliografia. Se as adjacências da Praça Onze fossem realmente o lugar onde se localizava o ‘berço do Samba’, porque cargas d’água o Morro da Mangueira, tão perto dali, seria o último a saber, o único reduto a não participar da construção desta grande novidade que, em 1910 já deveria estar em franca e notória gestação? Talvez tenha sido porque o que se irradiava da Cidade Nova para o Morro da Mangueira, não era ainda, definitivamente, Samba, e sim Rancho Carnavalesco. É o que se pode deduzir pela lógica dos fatos, principalmente se destacarmos o emblemático detalhe da reunião na qual Eloy cantou o seu seminal Partido Alto, ter ocorrido, exatamente, na sede de um rancho, o ‘Pérolas do Egito’.Pelo visto, era mesmo das bandas do Estácio e, principalmente, da roça de Oswaldo Cruz e adjacências (Morro da Serrinha) que chegavam os novos ingredientes, para engrossar o caldo do Samba que a esta altura, já estava borbulhando, quase no ponto, ali por volta de 1910 / 20. De todo modo, mesmo sem se saber exatamente quem influenciava quem, a lista de precursores, Pais e Mães do Samba na época, pode ser bem mais extensa – e variada - do que aparece na bibliografia oficial:...'De todas as tias, a mais famosa e a mais importante foi Tia Ciata (...) em cuja casa os pesquisadores asseguram ter nascido o samba carioca. Seu verdadeiro nome era Hilária Batista de Almeida, uma mulata muito bonita, que chegou ao Rio de Janeiro por volta de 1870, com 20 anos de idade. Instalada no Rio, Tia Ciata passou a ganhar a vida com um tabuleiro de quitutes baianos na rua Sete de Setembro.'Talvez seja mais razoável se deduzir, portanto, que sendo a palavra Samba, por esta ocasião, talvez uma forma ainda genérica para se designar ‘Chulas de negro’ ou, simplesmente ‘Música de negro’, o que fermentava no quintal da Tia Ciata na verdade – e eventualmente chegava até no Morro da Mangueira, sem atrair muito a atenção do povo de lá - não era exatamente o Samba definitivo mas sim, uma das muitas formas de Samba que pipocando aqui e ali na cidade, disputavam uma hegemonia que estava para se cristalizar a qualquer momento. O tal ‘berço do Samba’ poderia estar aquela altura, em qualquer lugar. Não havia uma estrela guia apontando para a 'Cidade Nova', como muitos especialistas em Samba insistiram em afirmar. Contudo, embora sendo um exagero muito oportuno e providencial, pode não ter sido tão gratuita assim a eleição da área da atual Praça Onze, por parte de nossos intelectuais, como o berço oficial do Samba. Nas primeiras décadas do século 20 (num fluxo que, se inicia na segunda metade do século anterior) o lugar já se configurara como uma verdadeira colônia bahiana, congregando emigrados de diversos tipos, inclusive personalidades do candomblé e até mesmo alguns alufás maometanos, mal vistos em Salvador desde os tempos da última revolta dos Malês.
Situada ali, bem perto do centro da cidade propriamente dita, do centro mundano incrementado pela recente criação do boulevard parisiense que era a Avenida Central, no qual se situavam os ‘points’ da intelectualidade carioca, esta colônia bahiana se prestava maravilhosamente bem – embora de forma simplista – como representação simbólica, uma espécie de microcosmo da cultura típica – idealizada - dos negros africanos na capital federal. Ao que tudo indica, no entanto, a julgar pelo que nos demonstram certos antecedentes da história do Samba, este pessoal da Bahia estava muito mais ligado mesmo é na afirmação por aqui, de suas próprias tradições culturais, trazidas do nordeste, entre as quais preponderavam o candomblé e os Ranchos (Pastoris ou Lapinhas), principal paixão cultural destes bahianos. '... Carlos Cachaça não guardou na memória o ano em que ouviu samba pela primeira vez em Mangueira, lembrando-se apenas de que foi no tempo do Rancho Pérolas do Egito, tudo indicando, portanto, ter sido antes de 1910. Mas não se esqueceu das circunstâncias em que o fato se deu... 'Aliás, pode se considerar por isto mesmo – e com certa propriedade até - que, ao que parece, houve uma curiosa subestimação – ou mesmo omissão - do caráter essencialmente lusitano da herança cultural trazida por estes grupos de bahianos para a Corte do Rio de Janeiro, herança que possui traços muito evidentes na cultura primordial do Morro da Mangueira, como bem nos demonstra o ambiente encontrado por Mano Elói, nos idos de 1910, quando lá introduziu o gosto pelo chamado Samba de fato. A implantação destas tradições luso-bahianas no âmbito da cultura urbana do Rio de Janeiro foi, inclusive, o motivo de muitas disputas e demandas internas, entre os principais líderes desta colônia nordestina, das quais a mais empolgante talvez tenha sido a que poderia ser chamada de A demanda dos Hilários, desentendimento ocorrido entre Hilária Batista de Almeida, a famosa Tia Ciata e Hilário Jovino Ferreira, segundo dizem o introdutor do Rancho no carnaval carioca, na disputa pela criação de um destes grupos. A referida disputa, de certo modo, separou os bahianos em duas facções rivais: A da Cidade Nova (Tia Ciata) e da Gamboa (Hilário Jovino) Além da eventual opção preferencial pelo Rancho Carnavalesco, a julgar por algumas entrelinhas, contidas nos muitos relatos existentes sobre o assunto, o tipo de Samba praticado na casa da Tia Ciata – a bem da verdade um reduto de certa elite negra, composta por geniais músicos e compositores profissionais, além de funcionários públicos bem sucedidos (o marido de Ciata, o médico João Batista da Silva, era chefe de gabinete do chefe de polícia do Governo de Wenceslau Braz) talvez fosse uma forma de Samba um tanto esnobe, impregnada ainda dos maneirismos estéticos dos diversos gêneros de música européia que andaram em voga no fim do Império, tais como o Schotisches, a Polka e a Mazurka.'Embora fosse daquela mesma geração, Pixinguinha não era exatamente um homem de Samba. Ele próprio contou que, nas festas descritas por Donga, não ia para o quintal: _ ’Eles (os sambistas) faziam seus sambas lá no quintal e eu os meus choros na sala de visitas. As vezes eu ia no terreiro fazer um contracanto com a flauta mas não entendia nada de samba’. No mesmo artigo, Sérgio Cabral comenta também que, um tal de Marinho que Toca, um cavaquinista, foi quem ensinou Donga a batida do Samba (provavelmente numa das festas na casa de Ciata), ou seja, já naquela altura, do mesmo modo que Pixinguinha, seu companheiro no grupo ‘Os Oito Batutas’, Donga também não era ainda muito chegado ao ritmo do qual, logo depois, seria incensado como o suposto ‘inventor’ (pelo menos em gravações) .
O que se fazia na casa da Tia Ciata, portanto, era certo tipo de samba negro sim, mas, de certo modo, um tanto ‘aculturado’, que já fora chamado antes de ‘Lundu’ e tentava agora descolar de si o nome de ‘Maxixe’, com o qual a mídia da época já ameaçava batizá-lo de vez, uma espécie de ‘Bossa Nova da Belle Èpoque’, em suma. O que se pode afirmar com certeza é que a receita de Samba tentada na casa da Tia Ciata, foi uma experiência de fusão musical que, pelo menos como Samba, não vingou. A receita que o caldeirão não conseguiu cozinhar (ou o cozido que não apeteceu a negrada, ao ‘populacho’); uma forma de Samba que, não prevalecendo, foi se diluindo, amarelando com o tempo, abafada pela batucada avassaladora que o povo negro da Roça, liderado pelo enorme poder de sedução e persuasão de figuras como Eloy Anthero, veio trazendo para as ruas da antiga Corte. Ao que nos parece, portanto, o Samba definitivo, aquele que emergindo por volta de 1920, se apossa rapidamente da cidade, só começa a tomar forma mesmo, quando o Jongo e outros ‘batuques’ instalados nas roças atrasadas da periferia, começam a se espalhar, como água pura - via cais do porto talvez - por esta cidade já irremediavelmente partida ao meio por uma imensa e simbólica ‘Avenida Central’ que, separando a população entre ‘brancos’ e ‘crioulos’; remediados e desvalidos, parte também nossa música popular urbana em duas vertentes culturais quase inconciliáveis, que só se encontrariam para desfilar no Carnaval.
Reproduz-se assim, como num samba enredo improvável, o quadro de intenso apartheid que havia sido instalado na cidade do Rio de Janeiro por seu prefeito, o ‘smart’ Pereira Passos, em 1906. Por este viés, pode-se compreender também, e com maior rigor e clareza, a natureza de uma certa polêmica que opunha de um lado, o 'samba' ‘Pelo Telefone' (aquele filho dileto do ‘Maxixe’) e de outro, o ‘Samba de Partido Alto’ (o filho legítimo da ‘Chula Raiada') aquele que enfim, logo em seguida, açambarcaria de vez o título de Samba de fato.
Num definitivo depoimento divulgado no livro de Muniz Sodré ‘ Samba o dono do corpo’, Donga afirma enfático que a melodia de ‘Pelo Telefone’ foi copiada de um tema folclórico, muito popular na ocasião (uma chula, portanto) no qual ele inseriu versos, encomendados ao jornalista Mauro de Almeida. O que conhecemos como o primeiro Samba gravado, não seria portanto nenhuma novidade. Na verdade nem o nome de 'composição' original mereceria porque, não passava de uma simples paródia (coisa que aliás, segundo o mesmo Donga, era bastante comum naquela ocasião). Podemos deduzir então que “Pelo Telefone’, era uma chula-paródia, em ritmo de Maxixe que, algum esperto produtor (Fred Figner, da Casa Edison ou o próprio Donga), detectando o grande apelo comercial da palavra, resolveu batizar de ‘Samba’. É sintomático inclusive que, começando provavelmente a ser elaborado em 1910, este ’Samba de fato’ tenha tido que esperar quase 20 anos mais para ocupar, no carnaval, o lugar que as marchas, lundus e maxixes ocuparam, durante as duas primeiras décadas do século 20.'...O primeiro rancho carnavalesco em Mangueira chamava-se Pérolas do Egito, criado antes de 1910, ano em que surgiram o Guerreiro da Montanha e um outro cujo nome Carlos ('Cachaça') esqueceu, mas que teria sido formado pelos moradores do alto do morro. Mais tarde, nasceu o Príncipe da Floresta, o mais famoso rancho de Mangueira, que adotou as cores verde e rosa.
Os negros Mangueirenses, no mesmo momento em que tentavam forjar a difícil mistura entre seus candomblés e macumbas com as dolentes marchinhas das Lapinhas, dos Pastoris e dos Ranchos dos lusitanos, devem ter ficado mesmo encantados com a astúcia e a picardia africana, angolana, contida nos ‘Sambas de Partido Alto’ trazidos por Mano Eloy. Segundo alguns autores, foi neste exato momento, quase em 1910, que eles, os Mangueirenses (junto com o pessoal da vizinha Praça Onze), foram irremediavelmente contaminados pelo vírus daquele Samba jongado que vinha da Roça ‘atrasada’. Nascia o Samba de Fato. Seu berço? Alguma fazenda de café do Vale do rio Paraíba do Sul, provavelmente. Ou, quem sabe? Algum pátio de aldeia, próximo à Luanda, Angola. De certo apenas isto: O nosso velho Samba não nasceu na Praça Onze
...E muito menos na Bahia.
Spírito Santo
Rio de Janeiro, 2005
tags: Rio de Janeiro RJ musica spirito-santo historia-do-samba nina-rodrigues racismo-a-brasileira morro-da-mangueira praca-onze polka schotishes pastoril rancho-carnavalesco partido-alto
tags: Rio de Janeiro RJ musica spirito-santo historia-do-samba nina-rodrigues racismo-a-brasileira morro-da-mangueira praca-onze polka schotishes pastoril rancho-carnavalesco partido-alto